O Brasil sempre teve o dom de produzir gigantes em meio à precariedade. Foi assim com Érico Veríssimo, que nos ofereceu mundos inteiros dentro das páginas de romances maravilhosos como “Olhai os Lírios do Campo” e “Incidente em Antares”. E foi assim com seu filho, Luiz Fernando Verissimo, que não herdou apenas o sobrenome, mas a verve literária que transformava o absurdo cotidiano em crônica, e a crônica em retratos de nós mesmos.
Verissimo não precisou subir em palanques nem comandar tropas. Sua arma era mais devastadora: o humor. Enquanto os generais da ditadura civil-militar distribuíam censura, ele respondia com ironia fina, quase inglesa, mas sempre com um sotaque brasileiro irresistível.
Quem leu “As Cobras” sabe que, em cada diálogo serpentino, havia uma verdade que não cabia nos jornais censurados, mas cabia nas tiras. Quem conheceu “O Condomínio” percebeu que a transição democrática não era romance de reconciliação, mas um elevador entupido de fantasmas. E em “A Mancha”, Verissimo foi além, expondo a derrota de uma geração inteira, com a delicadeza de quem sabe que até as cicatrizes têm alma.
Mas talvez sua maior criação política não tenha sido nem cobra nem homem, mas uma senhora de Taubaté, a Velhinha. A criatura doce, crédula, devota do governo, fosse ele qual fosse. Deliberadamente, a Velhinha acreditava nos mandatários de todos os matizes.
Criada em plena ditadura, ela exaltava os militares que juravam não haver tortura nos porões do regime. A Velhinha sobreviveu a Fernando Collor, telefonava para José Sarney e até rebatizou o gato de estimação em homenagem a Lula.
A Velhinha era, como disse Verissimo, “a última pessoa no Brasil que ainda acreditava no governo”. Hoje, talvez até ela tivesse desistido. Mas é bom lembrar que, com sua Velhinha, Verissimo desnudou uma tragédia nacional: nossa compulsão em crer, sempre de novo, nas promessas oficiais.
A Velhinha era uma piada tão boa que acabou virando realidade sociológica, pois até hoje há os fanáticos pelo poder, mesmo quando tudo já desmoronou.
Rimos porque doía. Rimos porque, na risada, Verissimo nos dava fôlego para atravessar os anos pesados. Poucos, pouquíssimos, conseguiram tanto com tão pouco, meia página de jornal, um parágrafo certeiro, uma frase que desmontava ministros.
Eis o talento de Verissimo: transformar a política nacional, transformar uma tragicomédia infindável em riso de primeira qualidade. Riso crítico, riso libertador. Riso que nos salvava da tentação de levar a sério quem nunca mereceu.
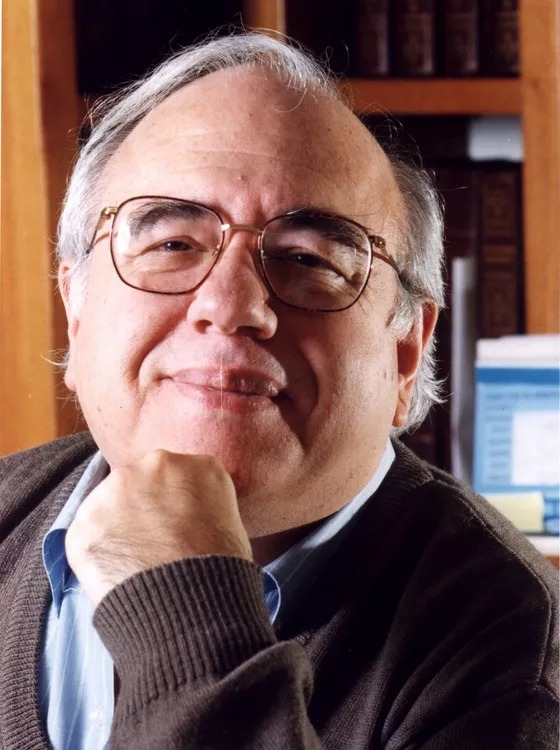
Hoje, em tempos de “internetês”, quando a literatura se resume a posts apressados, emojis e vídeos de quinze segundos, pensar em novos Veríssimos é quase utopia. Quem terá paciência de ler “O Analista de Bagé” se mal conseguimos concluir um X? No lugar da crônica, temos posts apressados. No lugar do humor inteligente, temos memes descartáveis. No lugar da reflexão, a pressa de deslizar o dedo pela tela.
Luiz Fernando Verissimo partiu, e com ele se vai uma era em que ainda acreditávamos que a crônica podia salvar a nação do ridículo. Sem ele, ficamos mais pobres. Ficamos mais pobres de literatura de valores, de reflexão, de talento. E, principalmente, ficamos mais pobres de humor, aquele humor que não era anestesia, mas bisturi.
Talvez reste a nós, leitores órfãos, o consolo de que Verissimo não morreu de todo. Está vivo em cada ironia que nos escapa, em cada descrédito que nos salva, em cada gargalhada amarga diante da política nacional. No fim, o cronista sabia que só rindo é possível suportar este país.
Verissimo nos ensinou que rir é ato político, que ironia é resistência e que a literatura pode ser o último refúgio da sanidade. Sem ele, ficamos órfãos de gargalhada e de lucidez.
E agora, diante da política nacional, só nos resta a pergunta: sem Verissimo, quem vai rir por nós?


